[RESUMO] Autor do livro "A Fé e o Fuzil", sobre a relação entre religião e crime no Brasil, pesquisador comenta o novo documentário de Petra Costa, que repassa os recentes terremotos políticos do país, das manifestações de junho de 2013 aos ataques de 8 de janeiro de 2023, à luz do crescimento evangélico.
O pastor Silas Malafaia dirige seu carro enquanto conversa com uma equipe que o filma para o documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa. De repente, um motoqueiro passa pela esquerda e corta o carro de Malafaia, que mete a mão na buzina sem piedade. "Para deixar de ser abusado. Quem ele pensa que é?", vocifera o pastor. "Vai aprender a pilotar essa porcaria. Eu fui motoqueiro."
Poderia ser apenas um entrevero entre motoristas estressados. Mas o pastor tem uma lição para dar. Com pitadas de teologia, passa a justificar sua raiva se valendo do sagrado. "O pessoal pensa que pastor é pra vim (sic) e pisar no pescoço", reclama. "Jesus girou mesa no templo, irmão. Pessoal não conhece a Bíblia. Jesus pegou o chicote e saiu arrebentando a turma que estava de safadeza no templo. Virou mesa, deu chicotada, não teve moleza, o Jesus de amor, de bondade, de paz..."
Sempre pronto a partir para cima e a defender seus interesses pessoais e políticos, Malafaia se ampara na figura de um Jesus irascível e intolerante.
Depois de xingar o motoqueiro, o pastor compra outras brigas ao longo do documentário: confronta o presidente Lula (que chama de cachaceiro) e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal; ataca os militantes das causas LGBTQIA+; respalda a truculência dos discursos de Jair Bolsonaro.
Cristo é seu porrete e seu escudo. "Grande parte dos pastores ficaram no monte da religião. Os sete montes (são) cultura, entretenimento, economia, educação, política... Eles ficaram no monte da religião. Se alienaram. Eu não", explica Malafaia.
Seis anos depois de lançar "Democracia em Vertigem", que concorreu ao Oscar de melhor documentário de 2020, Petra Costa conseguiu fazer uma sequência à altura em "Apocalipse nos Trópicos".
Ambos investigam um Brasil rachado, flertando com o extremismo de direita, desiludido com a política. "Democracia" se concentra no período que vai das marchas de junho de 2013, passando pelos protestos contra Dilma Rousseff e seu impeachment em 2016, chegando até a prisão do presidente Lula. "Apocalipse" acompanha o governo Bolsonaro, o drama da Covid, a eleição de Lula em 2022 e o quebra-quebra de 8 de janeiro no ano seguinte.
Os dois filmes contrapõem fatos históricos com a narrativa em primeira pessoa e as memórias da diretora. O recurso permitiu a Petra, em seu filme anterior, olhar o período da ditadura militar e da Lava Jato a partir da saga de sua família, proprietária de uma das grandes empreiteiras brasileiras, a Andrade Gutierrez. Nos anos 1970, os pais de Petra, Manuel e Marília, romperam com a família para participar da luta armada. A diretora traz essa bagagem emocional para descrever o ocaso da democracia.
Em "Apocalipse", Petra é a narradora cética, formada em bons colégios, que sabia o que era "a Revolução Russa e a fórmula do oxigênio", mas não tinha lido a Bíblia e nada sabia sobre "o Apóstolo Paulo, João de Patmos ou dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse".
Ela conta no documentário que só iniciou uma leitura mais atenta dos livros sagrados depois de uma visita ao Congresso, quando ganhou uma Bíblia de presente do ex-deputado evangélico Cabo Daciolo. A partir de então, finalmente começou a aprender o idioma de uma parte da população que parecia falar outra língua e que, de forma surpreendente, estava conquistando o poder no país.
O crescimento dos evangélicos foi um dos fenômenos sociais mais importantes do último século no Brasil. Em 1872, os que se diziam católicos representavam nada menos que 99,7% da população. Essa hegemonia permaneceu inabalável durante quase toda a história brasileira. Começou a se flexibilizar de forma relevante principalmente depois dos anos 1980, ao longo do processo de urbanização do país.
A quebra do monopólio do catolicismo abriu espaço para uma disputa acirrada no mercado das crenças. Com o tempo, os brasileiros que foram morar nas cidades abandonaram sua visão de mundo rural, forjada em torno das fazendas, do trabalho na roça, com memórias da casa grande e da senzala, para inventar e interiorizar novas ideias que os permitiam encarar os desafios da vida moderna.
O pentecostalismo, aos poucos, se tornou uma das crenças mais demandadas nesse novo cenário porque oferecia suporte mental e emocional para vencer os desafios urbanos.
As conversões religiosas crescentes, durante muito tempo, conviveram bem com as ideias políticas da Nova República. Na redemocratização, os eleitores deram suporte aos partidos e políticos que fizeram a Constituição de 1988, que domaram a inflação, que criaram o Sistema Único de Saúde, que promoveram o crescimento das matrículas nas escolas e nas universidades e que criaram as políticas de cotas e programas de renda inovadores.
Mesmo com todos os problemas do país, esses eleitores seguiram apostando no Estado e na racionalidade para definir seus rumos, enquanto a religião atendia o indivíduo e sua família na esfera privada.
Essa fronteira parece ter se rompido em algum momento da década passada, principalmente depois de 2013, quando a paciência com os governos e os políticos se esgotou.
As ruas mostraram uma urgência desesperada por algo que nem Petra, nem a maioria dos crentes da Nova República eram capazes de compreender.
Havia ressentimento, clamor por reconhecimento e respeito. Esse sentimento ganhou direção e sentido com a ajuda do sagrado, promovendo um novo embate com a esfera pública. Símbolos e mensagens da religião deram vazão a essa revolta difusa e reordenaram o espírito dos que se sentiam perdidos.
As pregações pentecostais, que já alcançavam as massas via concessões de rádios, televisões e se propagavam nas igrejinhas de bairro, ganharam nova dimensão e novos espaços de debates com a popularização das redes sociais.
Ao longo do documentário, Petra busca decifrar essa nova linguagem que direciona comportamentos e invade a política, sendo usada para legitimar autoridades, produzir obediência e promover causas.
Alguns personagens do filme mostram como a fé reavivada dos pentecostais estimula amor-próprio, autoconfiança e favorece a crença na própria capacidade de se salvar pelo mercado e pela disposição de empreender e ganhar dinheiro, sem depender do Estado.
A força política do pentecostalismo, na leitura da diretora, pode ser compreendida pelo livro do Apocalipse, que fala a respeito do fim dos tempos que se aproxima.
Conforme interpretações populares da atualidade, Jesus retornará com seus exércitos para combater o mal, numa guerra capaz de promover liberdade e paz. A crise da Covid e as guerras incessantes no mundo oferecem o contexto perfeito para que esse discurso tenha ressonância.
A religião ganha espaço nesse cenário ao criar a linguagem da guerra santa, em que se trava a luta pela tomada do poder em nome de Jesus, exercendo o domínio dos sete montes citados por Malafaia. Os opositores que tentam conter essa ambição sagrada passam a ser identificados como aliados do Diabo.
Malafaia é uma das vozes mais estridentes ao apontar o sentido desta luta e demonizar os adversários. Bolsonaro é seu comandante perfeito, um militar com Messias no sobrenome, que carrega um ressentimento profundo da elite pensante da Nova República e que sobreviveu a um atentado às vésperas da eleição, numa espécie de livramento miraculoso.
É preciso ter fé e dispensar o senso crítico para se comprometer com uma ação como a de 8 de janeiro, que finaliza o documentário, cujas imagens se misturam às de correntes de oração. O final do filme tem esse tom desolador.
O Censo de 2025, contudo, publicado depois de o filme estar pronto, trouxe uma boa notícia. Os evangélicos cresceram em ritmo mais lento do que na década anterior. Pode ser uma reação ao abuso das lideranças que encheram de veneno e de ódio a mensagem de Jesus, em um país que ainda vive o desafio político de criar um projeto coletivo comum a todos os brasileiros.
Essas lideranças enfrentam resistências entre os próprios evangélicos, alguns deles presentes no documentário. Há margem para otimismo. Afinal, o brasileiro nunca teve vocação para o fundamentalismo. Muda de lado conforme o contexto e o pêndulo da história.
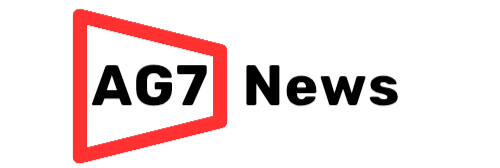

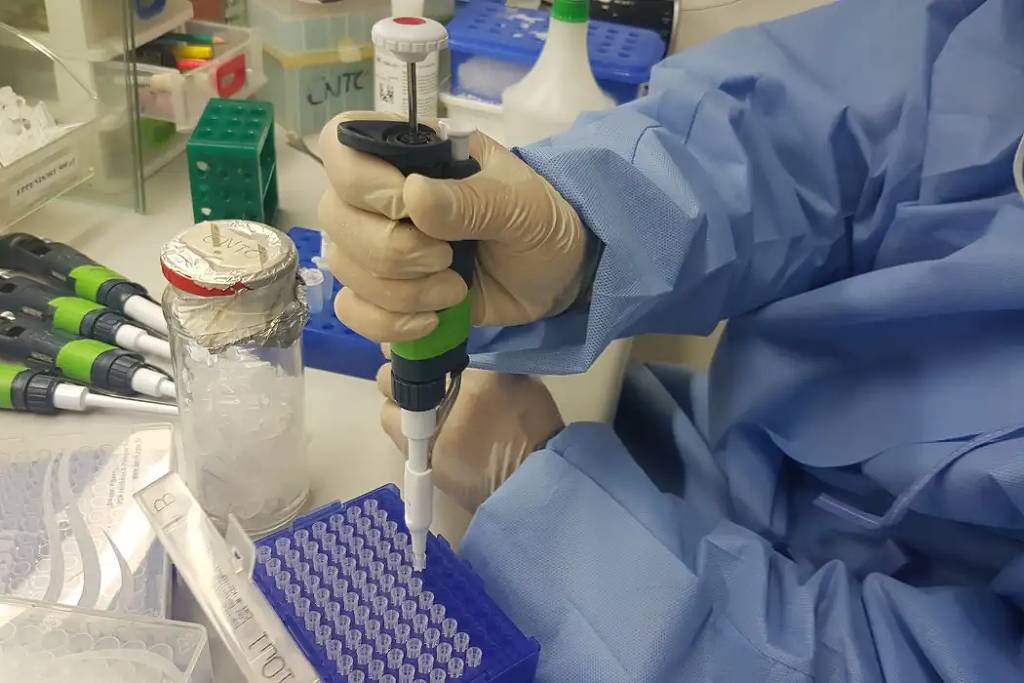






 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·