Nas últimas décadas, economistas e formuladores de políticas públicas acostumaram-se a tratar a economia de forma relativamente isolada das disputas geopolíticas. Predominava a crença de que o livre comércio e os fluxos de capitais seguiriam regras estáveis, guiadas por fundamentos econômicos e sustentadas por instituições multilaterais. Esse período, no entanto, chegou ao fim.
Vivemos hoje o que o estrategista e historiador Edward Luttwak —conhecido por seus estudos sobre relações internacionais— chamou de "nova era da geoeconomia": um ambiente em que instrumentos econômicos são utilizados deliberadamente como ferramentas de poder.
Tarifas, sanções, controles de exportação, subsídios industriais e até o redesenho das cadeias de suprimento passaram a compor o arsenal geopolítico dos Estados.
Eventos geopolíticos adversos e ameaças podem impactar variáveis macroeconômicas por diversos canais: destruição do estoque de capital, aumento dos gastos militares ou intensificação de comportamentos de precaução. Os riscos são bem mapeados: menor crescimento, mais instabilidade e crescente imprevisibilidade nos fluxos globais.
Essa virada é estrutural, não pontual. Desde a pandemia, a lógica da eficiência econômica tem gradualmente cedido espaço à lógica da segurança nacional. Governos não estão mais apenas buscando prosperidade absoluta; estão interessados em garantir vantagens relativas. E, num mundo sem regras claras ou mecanismos multilaterais eficazes, essa transição tende a intensificar rivalidades e provocar reações assimétricas e voláteis.
Nos Estados Unidos, esse novo paradigma se manifesta desde o primeiro governo Trump. As tarifas adotadas —e ampliadas sob Biden— sinalizam o rompimento com o antigo consenso pró-globalização. Ao lado disso, políticas industriais agressivas, baseadas em subsídios, incentivos fiscais e exigências de conteúdo local, passaram a orientar a estratégia econômica americana. O objetivo é reduzir vulnerabilidades externas e reindustrializar setores críticos, como tecnologia, energia e defesa.
A China, ao impor restrições à exportação de terras raras —essenciais para semicondutores, baterias e equipamentos militares—, utiliza o controle sobre recursos estratégicos como alavanca em sua disputa com os Estados Unidos e aliados.E esse padrão tende a se repetir em setores igualmente sensíveis, como os painéis solares e os ingredientes farmacêuticos ativos —nos quais também exerce liderança global.
A Europa, por sua vez, também busca reagir ao novo cenário, através de um plano ambicioso de fortalecimento da sua autonomia estratégica, que inclui o aumento dos gastos com defesa para até 5% do PIB até 2035. Ao mesmo tempo, a região tem se empenhado em tornar o euro mais atrativo como moeda de reserva internacional, um esforço para consolidar sua relevância em um mundo multipolar e mais fragmentado.
Folha Mercado
Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes.
Se, de um lado, a fragmentação do mundo pode trazer alguns resultados positivos, como tornar as economias mais resilientes a choques externos e o mundo menos vulnerável a uma potência dominante, esse novo arranjo impõe um custo visível: menor eficiência econômica, maior inflação estrutural e um ambiente de negócios mais volátil.
Empresas e investidores enfrentam maior incerteza regulatória, e decisões estratégicas passam a ser influenciadas não apenas por fundamentos econômicos, mas por alianças e interesses nacionais.
Para o Brasil, a lição é urgente. Em um mundo que se reorganiza em blocos geopolíticos, onde os grandes definem regras e os demais devem responder com estratégia, é essencial fortalecer nossos fundamentos institucionais e ampliar a base de parceiros comerciais.
As ameaças recentes dos Estados Unidos de impor tarifas ao Brasil devem ser lidas sob essa ótica: não se trata apenas de protecionismo pontual, mas de uma mudança sistêmica no funcionamento da economia global. Ignorar essa realidade é o verdadeiro risco.
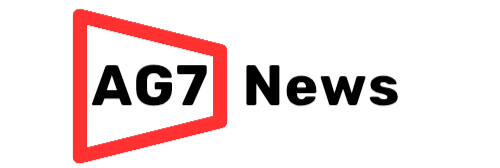








 English (US) ·
English (US) ·  Portuguese (BR) ·
Portuguese (BR) ·